
* ConJur
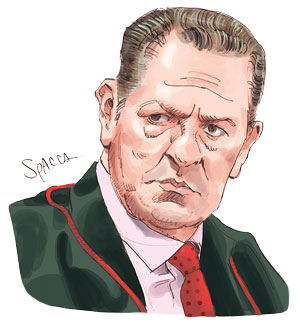
O juiz idealista é bom para o Judiciário, mas não aquele que busca o poder. Um magistrado que pensa em poder está aberto a negociar, diz o ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Noronha afirma que é preciso revestir o juiz de autoridade “para decidir e fazer cumprir as suas decisões”, mas não se deve incentivar que ele persiga o poder em sua carreira.
Ao chegar à Corregedoria Nacional de Justiça, em agosto de 2016, o ministro deixou claro que o posto não serviria apenas para distribuir punições. Ele entende que a principal missão do órgão é auxiliar no planejamento do Judiciário, ajudando a melhorar o funcionamento da Justiça e o trabalho dos magistrados.
“A parte disciplinar é importante, mas menor. Não podemos achar que a corregedoria é um mero instrumento de punição. Não adianta nada punir sem educar”, disse, em entrevista à ConJur.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça conta que a Corregedoria está sendo reorganizada para aproveitar melhor os dados que colhe durante as auditorias (ele não gosta do termo “inspeção”) feitas nos tribunais. A ideia é usar os dados, por exemplo, para replicar em tribunais um modelo de administração que esteja dando certo em uma das cortes.
“O Judiciário brasileiro tem um problema: levanta muitos dados, faz muitas pesquisas, mas ninguém interpreta ou constrói algo sobre essas pesquisas. Essa é a minha crítica. Na minha gestão vamos interpretar os dados para adotar linhas de ação”.
Na opinião do ministro, alguns costumes arraigados do Judiciário precisam ser abandonados, como as sentenças longas e filosóficas. Para ele, escreve-se demais. Além disso, diz, é preciso saber reduzir a litigância do poder público e lidar com a “indústria da advocacia”, que, segundo Noronha, pega uma tese e prolifera em ações.
Leia a entrevista:
ConJur — O foco da Corregedoria Nacional de Justiça deve ser de administração ou de punição?
João Otávio de Noronha — A Corregedoria contém tudo. A principal missão hoje de uma corregedoria é planejar. A parte disciplinar é importante, mas menor. Os números provam isso. Existem 16 mil juízes e 300 processos disciplinares. É um desvio normal. Não podemos achar que a corregedoria é um mero instrumento de punição. A punição é acidental, não adianta nada punir se não educar. Segundo a Constituição,a Corregedoria é o braço executivo do Conselho Nacional de Justiça. Logo, executa a administração da Justiça nacional, apura dados para instruir processos. A cada auditoria que fazemos — não gosto do termo inspeção —, nos deparamos com problemas de disciplina ou atos de ilegalidade. Só aí abrimos um procedimento. Se não encontrarmos, não significa que o trabalho foi perdido, porque é válido para colhermos elementos que possam nos auxiliar na gestão. O modo de administrar um tribunal pode ser adaptado para outro. Colhemos muitos dados para elaborar o planejamento.
ConJur — O senhor sente muita resistência dos tribunais com a chegada da Corregedoria?
Noronha — A Corregedoria chega com muita autoridade e não é normal sentir resistência. A apuração é aprofundada se sentirmos que algo está sendo escondido. Não tenho tido esse problema na minha gestão. Chegamos dialogando.
ConJur — Existe muita coisa a ser mudada?
Noronha — Alguns costumes arraigados do Judiciário precisam ser abandonados, como as sentenças longas e filosóficas. Escreve-se demais. Precisamos trabalhar hoje com resultados e produtividade. O cidadão quer saber se ganhou ou perdeu. A cultura é da solução e não mais a da fundamentação. Isso não quer dizer que o juiz deva proferir sentença sem fundamento, mas a fundamentação deve ser somente a necessária para que a questão seja decidida. Os arroubos intelectuais devem ficar reservados para artigos em revistas e doutrina.
ConJur — A ministra Cármen Lúcia costuma dizer que o Brasil tem 16 mil Supremos, que cada juiz, em cada vara, acha que é o próprio STF. O senhor sente isso também?
João Otávio de Noronha — Não, mas a fala pode estar ocultando algo que precisamos analisar. Não está faltando uma grande liderança na magistratura? Não só no sentido disciplinar, mas também no sentido de convencimento dos critérios jurídicos? Temos que aprofundar esse exame e investigar. Há resistência de juízes. Tenho pregado a força vinculante das decisões e das súmulas, mas há resistência de 16 mil, já que há liberdade de julgar. É muito salutar que o juiz julgue com a sua convicção jurídica, respeitando, lógico, o papel dos tribunais superiores, que é a definição última da interpretação do texto de lei.
ConJur — O STJ sofre com o desrespeito à jurisprudência?
Noronha — Sim, mas o novo Código de Processo Civil pode melhorar um pouco essa situação. Ele sistematizou de maneira mais clara a força vinculante das súmulas dos tribunais superiores e das decisões julgadas sob o rito dos recursos repetitivos. Isso é fundamental para acabar com a advocacia de massa. Se a tese não tem sucesso, os recursos não vão subir e, consequentemente, o advogado não vai ficar mais insistindo.
ConJur — O senhor acha que isso fez bem ao advogado?
Noronha — Existem dois grandes problemas. Um é o hábito de litigância do poder público, muitas vezes sem razão. O outro é a indústria da advocacia, que pega uma tese e prolifera em ações. Isso traduz comportamentos que aumentam o número de demandas e que não espelham a vontade do jurisdicionado. Temos que trabalhar no sentido de moralizar essas condutas no Judiciário brasileiro.
ConJur — A Corregedoria deve ter acesso a muita informação útil para o Executivo.
Noronha — Estamos reorganizando a Corregedoria para que os dados sejam colhidos e trabalhados. O Judiciário brasileiro tem um problema: levanta muitos dados, faz muitas pesquisas, mas ninguém interpreta ou constrói algo sobre essas pesquisas. Essa é a minha crítica. Na minha gestão vamos interpretar os dados para adotar linhas de ação.
ConJur — Já tem alguma coisa encaminhada?
Noronha — Começamos a trabalhar a questão de recursos repetitivos. Estamos interpretando a questão penal também. Por exemplo, existem mais presos preventivos do que condenados. Estamos analisando dados do Cadastro Nacional de Adoção. Dizem que o processo é moroso, mas a questão é muito delicada. Ao mesmo tempo, existem cada vez menos crianças para adoção do que comporta a demanda. Na área da economia e relações de consumo, queremos identificar demandas que podem ser evitadas ou ainda resolvidas por meio de mediação ou arbitragem. Após a análise das informações, quero conversar com o setor de telefonia, com a Fazenda Pública e os bancos.
ConJur — O juiz deve receber salário enquanto está afastado temporariamente?
Noronha — Em nome do princípio da presunção da inocência, defendo que o juiz continue recebendo mesmo afastado temporariamente, até a conclusão do processo.
ConJur — A Corregedoria está apurando o pagamento das chamadas “verbas adicionais” aos magistrados?
Noronha — A Corregedoria está levantando quais são as verbas. É preciso saber o que são essas verbas adicionais. Eu já peguei uma lista que tem desembargador recebendo R$ 100 mil, R$ 150 mil. Apurei e eram auxílios que não foram pagos no passado e ficaram sofrendo juros e correção monetária.O juiz não teria nada a receber se o auxílio tivesse sido pago no momento certo. É preciso saber na folha de pagamento o que é dívida do Estado e que não está sujeita a teto, porque não se refere a salário atual, mas ao passado. Não é uma mera indenização. É falta de bom senso dizer que o chamado “pé na cova”, um auxílio para o juiz não se aposentar, estoura o teto. Nesses casos, se o juiz não se aposentar, o incentivo é não descontar da folha o pagamento para a previdência. A técnica de contabilização é diferente. É recolhido o valor e depois creditado na conta do magistrado. Essa previsão constitucional não pode ser considerada verba além do teto.
ConJur — Não é o caso de talvez criar uma regra contábil mais clara?
Noronha — Estamos tomando essa providência. Mandamos aos tribunais formulários para informarem todas as rubricas que registram na folha de pagamento. Cada tribunal registra de um jeito. Por isso vamos estabelecer um padrão para não ser usado mais termos vagos como “vantagens pessoais” ou “vantagens eventuais”. Por exemplo, determinada diferença paga aos juízes é referente ao Plano Bresser. Aí fica claro e é possível saber se o magistrado ganha acima do teto.
ConJur — É preciso investir mais na formação do juiz brasileiro?
Noronha — O juiz brasileiro às vezes não produz porque falta formação. Ele não é orientado para administrar a vara em que atua. Precisamos investir mais nesse tipo de formação, como já fazem França, Portugal e Itália.
ConJur — Falta essa visão de administrador?
Noronha — As coisas estão melhorando. O juiz que disser que não sabe administrar pode sair da magistratura. O juiz é um agente que decide, portanto é um gestor a todo instante. A audiência mal administrada, por exemplo, é um inferno, porque demora muito a acabar. É preciso planejamento para realizar uma audiência. O magistrado tem que administrar a vara, conversar com os servidores, treiná-los, mandar fazer curso para melhorar o serviço prestado aos jurisdicionados. A sociedade não tolera mais mau humor e trabalho malfeito. A sociedade quer uma decisão boa e rápida. Essa pressão já chegou à magistratura.
ConJur — E como a magistratura tem respondido?
Noronha — Tenho notado que a juventude que está entrando na magistratura tem correspondido muito. São bastante idealistas.
ConJur — Às vezes não é muito exagerado esse idealismo? O senhor não acha que ultrapassa o que deve ser o papel de um juiz?
Noronha — Não. É claro que eu quero o juiz idealista, mas como magistrado. Não quero o idealista do salário nem o idealista do poder. Precisamos revestir o juiz de autoridade para decidir e fazer cumprir as suas decisões. Um juiz que não tem autoridade é um juiz nulo, porque não pacifica a ordem social. O juiz com autoridade é um juiz que incomoda. Já um juiz com poder nem sempre incomoda, porque quem pensa em poder negocia.